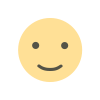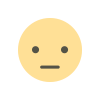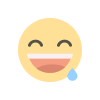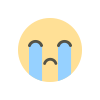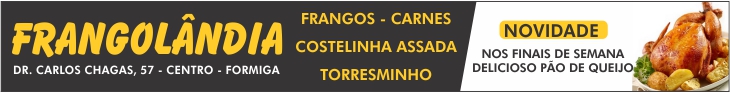Opinião: Aula de Anatomia
Ana Pamplona (de Formiga)

O homem estava deitado sobre a pedra de mármore, completamente imóvel, em decúbito dorsal. Nenhuma expressão naquele rosto descolorido pelo formol. Era o mínimo que se poderia esperar de um cadáver. O corpo nu, genitália à mostra, órgãos torácicos e abdominais visíveis por entre a cavidade aberta, perfeitamente encaixados sob a pele rígida, cor de azeitona, cortada e rebatida. Ironicamente, todo o complexo da vida, morto, em seus devidos lugares. Trabalho primoroso de um bom e caprichoso anatomista.
Ah... a vida! Como é estranha. Num dia estamos nascendo, crescendo, andando, correndo, amando e odiando, sonhando, laborando, e no outro, sem gerúndios — hirtos... mortos... sobre uma pedra gélida, depois conservados e mergulhados em tanques com formaldeído, cortados sob a precisão dos bisturis. Estudados, esmiuçados, remexidos...
Naquela tarde de agosto de 1.982, na primeira quarta-feira, lá estávamos nós na universidade. Moças e moços de jaleco branco, recém-saídos da adolescência, alegres e barulhentos, jovens e esperançosos. Descobrindo a vida como ela é macroscopicamente, na primeira aula de anatomia geral. Inclusive, algumas das mocinhas, vendo um pênis “ao vivo”, pela primeira vez.
O burburinho na turma era intenso, muita conversa e risadas altas e baixas, tímidas ou zombeteiras. A mestra, professora doutora, dona da cadeira de anatomia, exibindo uma carranca ameaçadora, berrou:
— Atenção!! Silêncio!! Muito respeito com os cadáveres! Eles foram gente como vocês! Estão aqui para a formação acadêmica dos senhores e senhoras!!
Silêncio sepulcral na turma (com e sem trocadilhos). A bronca da professora deu resultado. Ela apresentou o homem deitado na pedra: sem nome, sem identidade, sem CPF. Um homem, apenas. Anônimo.
Os vinte alunos espremeram-se em volta do morto, agora com respeito e moderação. O odor de formol era sufocante. Tudo contribuía para uma possível vertigem: as alvas paredes do laboratório, as lâmpadas no teto, o calor provocado pela proximidade dos colegas, a voz metálica da orientadora penetrando meus tímpanos, a visão do homem deitado.... Começou a tonteira. Titubeei, a vista escureceu, pensei, “vou desmaiar”. Alguns meses mais tarde e eu aprenderia o nome de uma velha conhecida: LIPOTÍMIA. Muito prazer, lipotímia... Fechei os olhos, segurei na pedra, dizendo para comigo: “não vou cair, não vou cair, não vou cair, é só um defunto”. Respirei, peguei o saquinho de sal no bolso do jaleco, roubado do restaurante universitário, coloquei um punhadinho disfarçadamente na língua. A boca salivou, coloquei mais uma dose. O suor porejando na fronte...
Enquanto o sal acertava os níveis da pressão arterial, não pude deixar de pensar na vida daquele cadáver. Era um homem alto, muito alto, aparentemente indígena, cabelos longos e negros, já embranquecendo. Difícil calcular a idade, pois a ação do formol alterara todos os traços. Os pés enormes deveriam ter percorrido muitos caminhos indo e voltando. As mãos, másculas, tão belas, calejadas, talvez pelo trabalho pesado, não se sabe onde, nem de qual natureza, agora inertes ao lado do corpo musculoso, haviam acarinhado alguém? Quantas vezes aquelas mãos haveriam enxugado lágrimas? Haveria alguém chorado por ele? Qual teria sido a causa do óbito?
Naquele momento fugaz, entre a plena consciência e a ameaça de um desmaio, foi que pude sentir pela primeira vez — muito tarde, infelizmente — a inquietação sobre os mistérios da vida e da morte rondando-me ostensivamente. Para onde teria ido a vida daquela pessoa? A alma, a inteligência, o espírito, a essência, não sabia como se chamava isso. Onde estava? Como estava? Tudo morto também? Como ficaria a história daquele ser? Acabada? Tudo o que ele fez em sua farta ou mísera vida, perdeu-se? Tudo o que fizera para ser alguém, para crescer e aprender... Onde estaria o saldo daquela vida? Haveria a possibilidade de uma autópsia espiritual??
Primeira aula de anatomia, primeira chacoalhada, primeira guerra mundial da minha (até então) estável vida. Um episódio aparentemente banal, transformado num marco inesquecível, que me tirou da zona confortável de dentro da caverna.
Ainda hoje, quase 43 anos depois, segue viva a lembrança daquele dia, bem como da nossa mestra, mostrando aos seus imaturos alunos, na parede do laboratório, a “Oração ao cadáver”. Foi escrita no século 19 pelo médico patologista austríaco, o Dr. Carl Rokitansky:
“Ao curvar-te com a lâmina rija de teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-te que este corpo nasceu do amor de duas almas; cresceu embalado pela fé e esperança daquela que em seu seio o agasalhou, sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens; por certo amou e foi amado e sentiu saudades dos outros que partiram, acalentou um amanhã feliz e agora jaz na fria lousa, sem que por ele tivesse derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece. Seu nome só Deus o sabe; mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza de servir a humanidade que por ele passou indiferente. Tu que tivestes o teu corpo perturbado em seu repouso profundo pelas nossas mãos ávidas de saber, o nosso respeito e agradecimento”. Amém!