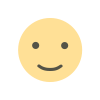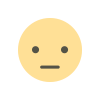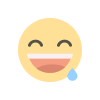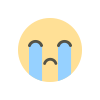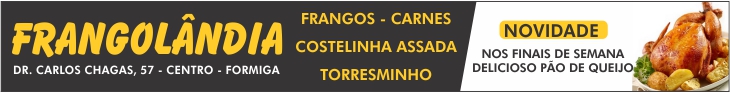Opinião: Frutas, doces e pipoca
Lúcia Helena Fiúza (de Belo Horizonte)

“Laranja, laranja, laranja… diretamente de Bebedouro! Traz a vasilha, Dona Maria; traz a sacola, Dona Aurora… porque, se não, o caminhão vai embora e a criança chora…”. Como me lembro de quando caminhões de laranja “diretamente de Bebedouro” chegavam a Formiga… De dentro da boleia, o motorista com um microfone ligado a altos falantes, como os dos carros do Landico, e com uma voz tipo a do Mário Murari andava pelas ruas bem devagarinho esperando que crianças e donas de casa fizessem fila. Umas vinham com embornais surrados e outras até com sacos de linhagem para comprar “um cento”. Isso mesmo, os caminhões vinham do interior paulista transbordando de laranjas que eram “um pingo de mel”, e elas eram vendidas de cem em cem.
Acho que era nos meses de junho e julho que esses caminhões apareciam em Formiga, lembro-me de que era no frio. A gente, eu, minha mãe, Dona Cidinha, e meus irmãos, Cecília e Toninho Maria, cada um segurando uma ponta do saco, levamos a campista pra casa. Sentávamos debaixo de um pé de pêssego que havia no meio do terreiro de nossa casa no Rosário, e era só descascar. Tudo está até hoje em mim e me faz emocionar.
Abacaxi era uma outra fruta que se vendia em caminhões, acho que vinha de Minas mesmo. Era coisa mais chique, não dava para levar um cento, geralmente eram de dois em dois. Sob nossos olhares famintos, mamãe colocava o abacaxi em pé em cima da pia e descia com a faca afiada. Depois, com a ponta da faca, retirava cada um dos olhinhos dos gomos que ficavam. A poupa ficava cheia de crateras, mas a gente aproveitava muito mais.
A maçã argentina era envolta por um papel crepom que variava entre o azul e o roxo, se molhasse, manchava a mão. Era demais imaginar que a gente estava comendo uma fruta de outro país, um país que parecia muito longe. A maçã era tão cara que não dava para comprar no Peg-Lev, só quando era vendida na rua. Uma camionete verde com carroceria de madeira aparecia e a gente adorava. Geralmente, havia capim entre as frutas, acho que era para não amassar na viagem. Com medo de agrotóxico, um veneno que apareceu certa vez em um programa da Globo, mamãe não deixava a gente comer a casca. A maçã era partida ao meio e todo mundo raspava com uma colher, era uma delícia.
Vez por outra, quando papai, Seu Coló, recebia seu salário da Rede Ferroviária, ele passava no Tropical, um bar na Praça Getúlio Vargas, e comprava garrafinhas de Guaraná Champagne Antárctica, elas eram lisinhas e verdes. Em casa, mamãe as colocava na geladeira e, “dependendo do comportamento”, a gente poderia tomar mais tarde.
O curioso do ritual do refrigerante é que a tampinha nunca era retirada. Para render, papai furava com um prego e a gente tinha de fazer um esforço danado de sucção para o líquido sair. Hoje, fico pensando na quantidade de baratas e de ratos que deveriam passar pelos engradados de madeira estocados nos fundos do Tropical.
A pipoca era na porta do cinema. Um senhor apelidado de Boa Vida era quem comandava o carrinho. A gente entrava na fila e ele perguntava: “Quer de 300 ou de 500?”. Não me recordo do dinheiro da época, mas sempre queríamos a de 500, hoje seria uma análise apurada da questão de custo-benefício. Ele vinha com um medidor, tipo um funil sem furo, com o fundo chato, colocava a pipoca no saquinho e batia duas vezes para acomodar a iguaria. Se batesse três, cabia mais.
O doce de leite vinha em balaio coberto com um saco de arroz alvejado. O menino gritava: “Aiiiôôô, doce de leite! Tem do branco e tem do preto!”.
Picolé, só o do senhor Northon: “Aiiiôôô… Skimóóó…!!!
Quanta história boa de um tempo em que o tempo demorava a passar… é uma pena tudo ter se acabado, quanta saudade...
(Depois comento mais, vou ter de tirar o miojo do fogão, acho que deve estar quase pronto. Hoje vai ter visita).